
Reprodução: Arquivo Nacional, Fundo Correio da Manhã
Resistência Através das Lentes: histórias de luta e memória do cinema dirigido por mulheres durante a ditadura civil-militar brasileira
Cineastas e pesquisadoras revisitam as condições femininas no mercado cinematográfico ao longo dos 21 anos de repressão
Durante as décadas de 60, 70 e 80, o Brasil viveu um dos seus momentos mais difíceis, sob um dos regimes mais sangrentos de toda a América Latina: a ditadura civil-militar. Foi um tempo de censura, perseguições e medo constante para quem lutava pela democracia. Nesse cenário, o papel da mulher era rigidamente definido: cuidar da casa, dos filhos, obedecer o marido e manter a aparência da "família tradicional". A moral e os bons costumes tornaram-se instrumentos de controle. A sexualidade feminina era vigiada, e comportamentos considerados "livres demais" eram tachados de imorais ou subversivos. Mas as mulheres não ficaram em silêncio: muito pelo contrário. Novas vozes que desafiavam o conservadorismo da época começaram a surgir. Alimentadas pela chamada Segunda Onda do Feminismo, ativa no mundo a partir dos anos 60, as mulheres tiveram participações ativas em protestos contra o governo, sindicatos, movimentos estudantis e organizações clandestinas, lutando contra a imagem de submissão e passividade atrelada ao gênero. Figuras como Zuzu Angel, Eunice Paiva, Therezinha Zerbini, Neusa Maria Pereira, Clarice Herzog e Ana Dias destacaram-se na defesa da democracia, dos direitos humanos, pela busca por justiça de entes desaparecidos e assassinados pelo regime, melhores condições trabalhistas e igualdade de gênero, raça e sexualidade. Na luta armada, as mãos de Iara Iavelberg, Maria do Carmo Brito, Zilda Xavier Pereira, Jessie Jane, Ana Maria Nacinovic, Sônia de Moraes Angel e Janete Capiberibe, entre tantas outras, pegaram em armas para tentar derrubar a ditadura. A resistência feminina também foi expressada através da arte. As atuações na música, literatura, teatro e cinema foram essenciais para denunciar a repressão estatal.
No cinema, obras de Ana Carolina, Helena Solberg, Adélia Sampaio, Ana Maria Magalhães, Eunice Gutman, Vera de Figueiredo, Tetê Moraes, Tereza Trautman, Tizuka Yamasaki, Lucia Murat e Rita Moreira se tornaram sinônimos de resistência não só pelos conteúdos sociais e políticos abordados em seus roteiros, mas também por fazerem parte de um movimento de contestação do lugar das mulheres dentro da esfera profissional, um ato coletivo de ruptura da experiência feminina em um mercado predominantemente masculino e excludente. Elas abriram espaço para novas representações de gênero e para personagens femininas complexas, que escapavam dos estereótipos. Se, hoje, a porcentagem de filmes brasileiros com direção feminina no circuito comercial se mantém na faixa dos 20%, como mostra pesquisa publicada pela Ancine em 2024, naquela época, os números mal alcançavam os dois dígitos. Ser uma mulher cineasta ainda significa se impor para ser ouvida e conquistar seu espaço, e, consequentemente, provocar transformações comportamentais mais amplas na sociedade. Mas, na ditadura, era muito mais difícil.
A censura e os papéis impostos às mulheres
Em uma sociedade que exigia um determinado comportamento das mulheres, onde a obediência e submissão à figura masculina faziam parte dos valores comportamentais e morais, qualquer tipo de emancipação feminina era visto com desconfiança. No meio deste cenário, "A Entrevista" - curta-metragem dirigido por Helena Solberg, gravado em 1964 e lançado em 1966 - abriu portas para a representação de ideias feministas dentro do cinema. Durante seus 19 minutos, o curta leva o telespectador a refletir sobre a visão feminina sobre temas considerados “tabus” ao gênero naquela época - como sexo, casamento, traição, virgindade, trabalho e depressão - através de depoimentos reais de amigas ou conhecidas da cineasta. Ao todo foram ouvidas 70 mulheres entre 19 e 27 anos, pertencentes ao mesmo grupo social, mas apenas alguns testemunhos foram selecionados para envolver a narrativa. No decorrer das declarações, em sua maioria anônimas, acompanhamos uma jovem - interpretada pela cunhada da diretora - se arrumando para sua cerimônia de casamento, meta de boa parte das mulheres da classe média alta carioca daquele período. A obra também traz imagens do cotidiano desta camada mais conservadora: crianças na primeira comunhão, freiras e adolescentes de uniforme e a jovem noiva passando o dia na praia - tudo isso enquanto as entrevistadas confessavam suas angústias e expectativas pessoais sobre questões femininas.
A contradição de pensamentos entre indivíduos de um mesmo grupo chama a atenção ao longo do discurso. Enquanto algumas participantes exaltam a liberdade feminina fora dos moldes matrimoniais - “Eu gosto muito de liberdade, uma liberdade que eu acho que eu não teria no casamento” - outras reproduzem ideias mais conservadoras, que atrelam a felicidade de uma mulher ao casamento: “Eu acho que a mulher só é realizada quando se casa”. Vale destacar que estes paradoxos se intercalam com frequência durante a trama, uma linha narrativa escolhida por Helena para evidenciar as tensões que atravessavam o imaginário feminino da época.
As cenas finais do filme mostram a noiva sendo entrevistada sobre o seu casamento pela própria diretora. Logo após o seu depoimento, um corte brusco é feito para imagens da Marcha da Família com Deus pela Liberdade - manifestações anticomunistas que apoiaram o golpe de 64 e que contou com uma participação expressiva de organizações femininas. O curta foi pioneiro em dialogar as questões de gênero com as intervenções políticas da ditadura. Por esse motivo, Helena Solberg é reconhecida como a única cineasta feminina do Cinema Novo - movimento cinematográfico dos anos 60 que teve como marca as críticas sociais e a busca por uma linguagem autenticamente brasileira.
"Toda mulher é meio Leila Diniz"

Reprodução: Biblioteca Nacional/ Jornal O Pasquim - Edição n° 22
Nos versos da canção "Todas as Mulheres do Mundo" da cantora Rita Lee (mesmo título do filme de Domingos de Oliveira de 1967) ou nas telas de cinema de todo o país, um nome é lembrado, até hoje, como símbolo revolucionário de contestação do conservadorismo. No contexto de efervescência e ruptura da ditadura, a atriz Leila Diniz surge como um ícone crucial para a liberdade sexual feminina no Brasil. Com sua espontaneidade irreverente e desafiadora, Leila rompeu com o moralismo hipócrita e patriarcal da época. Sua famosa entrevista ao jornal O Pasquim, em 1969, gerou uma ruptura no imaginário social sobre o comportamento feminino e acarretou um decreto que instituiu a censura prévia à imprensa. Embora o semanário fosse um veículo progressista e de resistência, conhecido por sua crítica contundente e sarcástica ao regime militar e à sociedade de maneira geral, ele não estava imune ao machismo estrutural da época, reproduzido por seus jornalistas (majoritariamente homens). O questionário direcionado a Leila era repleto de perguntas de cunho sexual e invasivo sobre sua intimidade.
Além de falar sobre sexualidade e relacionamentos, a dinâmica - que rendeu 5 páginas do jornal, 72 palavrões censurados por asteriscos e uma capa memorável com a artista usando uma toalha de banho na cabeça - também levantou questionamentos de Leila em relação à repressão estatal sob os meios artísticos. Ao afirmar que “censura é ridículo, não tem sentido nenhum”, ela criticou o silenciamento institucional e denunciou o caráter moralista do regime. Após a repercussão da entrevista, a atriz foi perseguida pelos militares e obrigada a assinar um documento de responsabilidade para não usar palavrões em público.
Suas respostas sem tabus e a sua subsequente aparição grávida de biquíni na praia de Ipanema, em 1971, expuseram publicamente uma sexualidade e um corpo fora do controle masculino, influenciando a busca por um novo modelo de feminilidade e maternidade. O seu comportamento audacioso no cinema e na vida real abriu caminhos para que outras mulheres pudessem expressar sua liberdade e desejo, marcando um ponto de inflexão na luta pela emancipação feminina no país.
O mesmo impulso libertário do curta de Helena e do estilo de vida de Leila encontrou na censura institucionalizada um obstáculo severo, já que a expressão feminina autônoma era vista como uma ameaça aos valores, princípios e regras de conduta da política vigente. No decorrer do regime, o aparato censor se consolidou como um dos principais mecanismos de controle ideológico, legitimado por leis repressivas como o Ato Institucional nº 5 (AI-5), de 1968, e regulamentado por órgãos como o Departamento de Censura de Diversões Públicas (DCDP), submetido à Polícia Federal. Sob o pretexto de proteger a “moral e os bons costumes”, o Estado impunha restrições severas à produção artística, limitando o alcance de narrativas que abordassem sexualidade, contestação social ou crítica ao poder. Ao controlar os meios de comunicação, o Estado conseguia, ou pelo menos tentava, limitar o pensamento da população ao seu favor - evitando que influências consideradas inadequadas ganhassem força em escala massiva. Para as cineastas, que já lutavam por espaço em um meio predominantemente masculino, a censura representava uma dupla opressão: além de barrar seus filmes, impedia que suas visões de mundo ganhassem voz e legitimidade.
Diante desse cenário repressivo, artistas e intelectuais foram às ruas manifestar-se a favor da liberdade artística, da preservação da cultura nacional e contra a violência estatal. Movimentos estudantis, coletivos de teatro, cineclubes e festivais independentes tornaram-se espaços de resistência simbólica, nos quais a arte se afirmava como instrumento político e de contestação. Nessas arenas, a cultura deixava de ser mero entretenimento para se transformar em um território de enfrentamento ao autoritarismo, questionando a moral conservadora imposta pelo regime. Assim, mesmo sob vigilância e risco de punição, surgiram iniciativas que buscavam manter viva a circulação de ideias, consolidando a arte, inclusive o cinema, como uma das principais formas de expressão e denúncia da época.
Lei da Imprensa (1967)
Ato Institucional n°5 (1968)
Decreto-Lei nº 1.077 (1970)
Documentos: Arquivo Nacional e Planalto.gov.br
Cards: produção própria com a ferramenta Flourish
É nesse contexto que a proibição do filme "Os Homens Que Eu Tive" (1973) - dirigido, roteirizado e montado por Tereza Trautman - ganha força simbólica. "
A produção é um marco do cinema brasileiro não só por colocar no centro da narrativa uma mulher que reivindica o direito ao próprio desejo em plena ditadura militar, mas também por Tereza ser a primeira mulher a dirigir um longa-metragem de ficção no Brasil desde a década de 1950. Na obra, a protagonista Pity, interpretada por Darlene Glória, vive um casamento aberto com Dode, interpretado por Gracindo Júnior, no qual relações extraconjugais são permitidas. A dinâmica mostra as contradições de uma sociedade conservadora dominada pelo olhar masculino enquanto a autonomia feminina é limitada. Com isso, a cineasta critica o casamento monogâmico e os papéis de gênero, antecipando debates que só ganharam força décadas depois.
No lançamento do filme, a Censura liberou a circulação do filme para maiores de idade com alguns cortes em cenas com palavras de baixo calão, como mostra um dos pareceres resgatados pela pesquisadora Ana Maria Veiga, em seu artigo Tereza Trautman e Os homens que eu tive: uma história sobre cinema e censura, publicado em 2013:
"Título: Os Homens Que Eu Tive. Classificação etária: 18 anos. Cortes: sim. Vedada a exploração comercial: não. Cenas: levianas, da alcova. Linguagem: vulgar e algumas palavras de baixo calão. Tema: social, infidelidade conjugal. Personagem [sic]: vulgares e levianas. Mensagem: negativa. Enredo: Pity, mulher leviana, deixa o marido, que também mantinha relações extraconjugais, e prossegue sua vida com vários homens. No final, ela engravida de um dos companheiros, fica muito feliz e comunica o acontecimento ao marido, pedindo o desquite. Cortes: No trailer – palavrão porrada. Segundo rolo do filme – palavrão filho da puta. Conclusão: trata-se de película com conteúdo amoral, baseado no adultério. Opinamos pela liberação para maiores de 18 anos, com os cortes acima mencionados. Brasília, 01 de junho de 1973."
Apesar do sucesso de bilheteria nos grandes circuitos do Rio de Janeiro e Belo Horizonte, o filme foi proibido após seis semanas em cartaz. O longa resistiu como símbolo da repressão cultural e da coragem artística feminina, sendo recentemente restaurado pela Cinemateca Brasileira.

Escute o áudio acima
Mesmo após as alterações sugeridas pela censura em seu roteiro e título, o parecer publicado após novo pedido de liberação feito pela diretora, em 1975, continuou a classificar o filme como inapropriado para circulação na época. Também apresentado no levantamento de Ana Maria Veiga:
"Parecer 4680/75. Título: Os homens e eu. Classificação etária: não liberação. Enredo: Mulher casada troca a segurança do lar e do marido por vida libertina, prostituída até o dia em que resolve engravidar-se [sic] do último homem que tivera, quando reencontra com o marido, que sempre lhe dera cobertura para todos os atos de prostituição e pouca vergonha. Conclusão: Filme amoral, pornográfico em sua mensagem, debochado, cínico, obsceno que tenta com enredo malfeito justificar a vida irregular de mulher prostituída. É um libelo contra a instituição do casamento, considerando como tal todas as investidas irregradas da insaciável mulher. É uma afronta à moral e aos bons costumes, em que pese os interessados terem subtraído os poucos palavrões existentes. É o mesmo filme que já foi objeto de exame e posterior interdição (Os homens que eu tive), tendo sido, apenas, mudado o nome. A bem da moral, bons costumes, à [sic] instituição do casamento, à [sic] sociedade, das pessoas normais e de bem, somos pela NÃO LIBERAÇÃO [grifo do original]. Brasília, 23 de maio de 1975. Joel Ferraz — Técnico Censor."
Como o nome da cineasta entrou para a lista de proibições do governo, cada projeto que ela apresentava ou de que participava era impedido de circular, independentemente do conteúdo. Em 1975, por exemplo, sua parte no filme "As Deliciosas Traições do Amor" - no qual dividiu espaço com adaptações de outros diretores - foi completamente cortada pela censura. No ano seguinte, iniciou a produção de um filme sobre Dom Hélder Câmara, em conjunto com a emissora francesa Antena 2, que foi cancelado após ameaça de negação do visto para o diretor da empresa que a havia contratado.
Mais do que um caso isolado, a censura à produção de Tereza escancarou o medo do governo diante da mulher que pensa e fala sobre si - a mesma liberdade que Leila Diniz, poucos anos antes, havia encarnado com tanta coragem. O silêncio imposto a essas vozes evidencia como o autoritarismo da ditadura não se limitava ao campo político, mas também buscava controlar o imaginário, o corpo e a palavra das mulheres brasileiras.
O auge do cinema feminino na repressão
Em paralelo às restrições institucionais, uma contradição ganhou força nos anos 70 e 80. O mesmo Estado que oprimia produções cinematográficas passou a incentivar o seu mercado, a partir de 1969, com a criação da Empresa Brasileira de Filmes S.A - a Embrafilme. No início, a estatal era focado na distribuição de produções brasileiras no exterior, sem estar, necessariamente, interessado em expandir o mercado audiovisual dentro do país. Depois, começou a realizar seus primeiros financiamentos, substituindo o antigo Instituto Nacional de Cinema (INC) - órgão de incentivo do governo à produção de filmes executados entre os anos de 1966 e 1969. Um dos primeiros filmes custeados pela Embrafilme foi "São Bernardo" (1972), dirigido por Leon Hirszman, que se tornou emblemático na fase tardia do Cinema Novo. Mesmo sendo apoiado pela estatal, a obra passou sete meses retida pela censura. O governo exigia cortes de cunho político para a sua liberação, mas Hirszman se recusou. Foi graças ao prêmio Margarida de Prata, concedido pela Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, que o filme conquistou visibilidade e conseguiu a dispensa.
Nesses primeiros anos, a Embrafilme não trouxe tantos benefícios às profissionais femininas: o financiamento focava em produtoras experientes e com certa estabilidade no mercado, algo que não abrangia a maior parte das diretoras. Na época, a credibilidade e o potencial comercial da obra importavam mais do que o roteiro. Após pressão da classe cinematográfica, a partir de 1973, o órgão começou a mudar suas perspectivas em relação ao cinema nacional com a criação de uma rede de distribuição, além de criar premiações voltadas a filmes históricos e literários. No ano seguinte, o cineasta Roberto Farias assumiu o cargo de diretor-geral, tornando-se o primeiro civil na posição, abrindo portas para a regulamentação do mercado nacional. A partir de 1974, com a criação de novas leis e fomentos de incentivo cultural - como o Conselho Nacional de Cinema (Concine) e a Lei do Curta - a entrada de estreantes no mercado foi facilitada. A Lei do Curta (artigo 13 da Lei Federal n° 6.281) contribuiu para a entrada das mulheres no circuito comercial cinematográfico, já que a maior parte de suas produções eram curtas-metragens. Sancionada em 1975, a medida obrigava a exibição de curtas nacionais antes de longa-metragens estrangeiros no cinema. No ano seguinte, o Concine foi desenvolvido para fiscalizar e garantir que as leis e regulamentos cinematográficos estavam sendo cumpridos.
A Embrafilme também contava com uma filmoteca, responsável pela criação e operacionalização de políticas voltadas para cineclubes, associações culturais, profissionais e comunitárias. Com mostras, lançamentos, aluguel e venda de cópias, a área impulsionou o cinema nacional, principalmente as produções dirigidas pelas cineastas. Dentre os filmes dirigidos por mulheres presentes em seu catálogo estavam apenas 30 curtas, 8 médias e 7 longas-metragens.
Aqui, vale ressaltar três pontos sobre estas produções presentes no catálogo. O primeiro é a duração das obras, que seguem um padrão estabelecido na época, mas que hoje não condiz com as normativas da Agência Nacional do Cinema (Ancine). De acordo com a medida provisória 2228, de 6 de setembro de 2001, um curta-metragem tem duração igual ou inferior a 15 minutos. O média-metragem apresenta extensão superior a 15 e igual ou inferior a 70. Já os longas-metragens incluem obras com duração superior a 70 minutos. Esta definição pode variar para festivais específicos, como o de Veneza, onde curtas podem ultrapassar os 15 minutos. Esse formato foi especialmente significativo para as realizadoras brasileiras dos anos 1970. Muitas mulheres passaram a produzir obras de menor duração por uma combinação de fatores estruturais e políticos: o menor custo, que tornava o filme viável mesmo sem acesso a grandes financiamentos; a abertura de novos espaços de formação, como universidades e cineclubes; e a liberdade estética proporcionada pelo formato, que permitia experimentação em um campo ainda profundamente masculino. Além disso, em meio à ditadura civil-militar, os curtas funcionaram como território simbólico de contestação, menos visado pelo aparato censor, no qual questões de subjetividade feminina, desigualdade de gênero e crítica social podiam emergir com maior sutileza.
A segunda questão refere-se à codireção de homens nas obras analisadas. Mesmo quando dividiam a assinatura, as cineastas adicionavam seus pontos de vista, rompendo com o predomínio masculino nas narrativas do audiovisual. Ao excluir nomes como os de Tânia Quaresma, Mariza Leão e Maria Rita Kehl sob o argumento de que elas não dirigiam sozinhas, apaga-se o gesto de inserção e enfrentamento que marcou a presença feminina nas produções do período, um movimento silencioso, mas que foi fundamental para a ampliação do papel da mulher na história do cinema brasileiro.
O terceiro ponto está relacionado às narrativas dos filmes. Apesar de ser um equívoco histórico e crítico reduzir as obras dirigidas por essas mulheres apenas a abordagens sobre o universo feminino, é inevitável falar sobre como suas próprias vivências acabam refletidas dentro das telas, mesmo quando não são o foco principal da narrativa. “Quando as mulheres estreiam na direção, elas normalmente falam de mulheres, de questões que são muito ligadas ao feminino, né? Então, a gente fala que são filmes que só as mulheres poderiam fazer”, afirma Paula Alves, diretora e produtora do Festival Internacional de Cinema Feminino (Femina). “Realmente, as mulheres podem fazer filmes sobre qualquer coisa. A gente pode fazer filmes sobre esporte, política, sobre qualquer assunto. Mas a gente sempre vai carregar as nossas marcas sociais, a forma como a gente se relaciona com o mundo”, completa.
Um exemplo disso é a trajetória cinematográfica de Ana Carolina. Após trabalhos documentais, a cineasta se lançou na ficção com uma trilogia sobre o papel das mulheres na sociedade brasileira, utilizando humor, ironia e elementos do teatro para questionar as estruturas patriarcais, conservadoras e autoritárias. Em "Mar de Rosas" (1977), primeiro filme da trilogia, é possível ver uma crítica contundente à opressão feminina e ao autoritarismo presente tanto nas relações familiares quanto no regime político da época. A trama acompanha Felicidade (Norma Bengell), uma dona de casa que, após acreditar que tinha assassinado o marido, parte em fuga com a filha Betinha (Cristina Pereira), iniciando uma jornada de autoconhecimento e ruptura com as normas patriarcais.
Já no segundo longa, “Das Tripas Coração” (1982), a história é ambientada em um colégio tradicional para meninas que está prestes a ser fechado após uma intervenção do Estado. Antes da reunião que iria definir o fechamento da instituição, o interventor (Antônio Fagundes) acaba cochilando e tendo um sonho vívido sobre a complexidade feminina através de suas fantasias e conflitos dentro da escola. Por fim, em “Sonho de Valsa” (1987), a última obra da conjunto, Tereza (Xuxa Lopes) faz uma viagem de autoconhecimento enquanto busca o amor. A trajetória da personagem, à maneira de fábula, ressalta uma discussão sobre liberdade sexual e o papel feminino na sociedade, em que a realização pessoal e o encontro de um parceiro são frequentemente associados.

Cartaz do filme "Mar de Rosas". Reprodução: Cinemateca Brasileira
Além do questionamento do lugar das mulheres socialmente, o debate acerca de suas participações dentro do mercado cinematográfico já era abordado por cineastas como Ana Maria Magalhães. No documentário “Mulheres de Cinema” (1976), sua obra de estreia na direção, Magalhães investiga a presença e, consequentemente, a ausência feminina no audiovisual brasileiro, reunindo entrevistas e reflexões que expõem as barreiras estruturais impostas às profissionais do setor. Mesmo com pouca repercussão na época de lançamento, o média-metragem foi pioneiro em debater a presença das mulheres por trás das câmeras, questionando a falta de oportunidades e a invisibilização de suas funções na cadeia cinematográfica. “Eu sabia das minhas limitações: era meu primeiro filme, na verdade um estudo sobre um tema. Mas o curioso é que o tema foi uma sacada minha que ninguém tinha tido. E agora, depois de quase 50 anos, tem um monte de série, de filme. Para mim, é um assunto muito velho, é um assunto daquela época!”, conta Ana em entrevista realizada por Luísa Pécora, em 2023, para o website Itaú Cultural. Sua atuação contribuiu para abrir espaço a novas narrativas e consolidar uma consciência feminista no cinema brasileiro, tornando-se referência para gerações posteriores de diretoras e pesquisadoras.
“No cinema brasileiro atual, as atrizes continuam a desvendar para o público a condição feminina. Mas agora a mulher circula livremente pela estrutura do filme, participa de todas as etapas. Do roteiro à montagem, da fotografia à direção de produção. Contemplando-se até hoje no quadro de um cinema eminentemente masculino, ela começa a revelar a sua face oculta. Curiosa de ver o mundo de sua maneira, descobre no cinema a capacidade de refletir. Nas imagens nascidas de sua visão interior, a mulher se adivinha, se discute, se libera e, mais uma vez, recomeça”.
"Mulheres de Cinema", Ana Maria Magalhães (1976)
O cinema da emoção pela emoção
Não há como falar sobre consolidação e transformação da presença feminina no cinema durante a ditadura sem citar uma das diretoras mais consagradas do período: Tizuka Yamasaki. Cria do Cinema Novo, como ela mesma se considera, Tizuka iniciou sua formação na Universidade de Brasília - onde chegou a ser aluna do ator e, na época, professor visitante Cecil Thiré. Após intervenção militar na UnB, a cineasta foi transferida e finalizou o curso de cinema no Instituto de Arte e Comunicação Social (IACS) na Universidade Federal Fluminense (UFF), em Niterói. Na faculdade, produziu alguns curtas-metragens e foi bastante influenciada por um de seus professores, o cineasta Nelson Pereira dos Santos, com quem trabalhou como assistente. Em 1978, fundou sua própria produtora, Centro de Produção e Comunicação (CPC), responsável por filmes como "Bar Esperança" (1983, Hugo Carvana), "Rio Babilônia" (1982, Neville De Almeida) e "Idade da Terra" (1980, último filme de Glauber Rocha).
O trabalho de maior destaque veio em 1980 com seu primeiro longa-metragem “Gaijin – Caminhos da Liberdade", obra que se tornou um marco ao retratar a experiência da imigração japonesa para o Brasil sob uma perspectiva sensível, histórica e profundamente humanista. O filme chamou atenção pela abordagem madura, pela força narrativa e por trazer à tela um recorte étnico até então pouco explorado pelo cinema nacional. A cineasta conta que, para realizar a produção, procurou ajuda do diretor chileno Jorge Durán, já que gostaria de ter relatos sobre experiências estrangeiras no Brasil. “Apesar de ter uma aparência, uma fisionomia estrangeira, eu não era estrangeira. O único lugar que eu conhecia era o Brasil, e eu queria um ponto de vista estrangeiro na história para poder contá-la melhor. A gente saiu fazendo pesquisas sobre imigração, por incrível que pareça, não havia nada. Basicamente nada. Não se falava dos imigrantes no Brasil. Não se falava da imigração italiana, libanesa, portuguesa, espanhola, alemã. E no entanto, você pega o sul do Brasil, sudeste do Brasil, é todo habitado e formado por essa gente que veio do exterior para trabalhar aqui”, relata.

Escute o áudio acima
Em Gaijin, a cineasta não apenas consolidou seu nome na indústria, mas também ajudou a ampliar a diversidade temática e autoral do cinema brasileiro da época, contribuindo para um cenário em que mulheres, ainda minoria nas equipes, começavam a afirmar suas visões e complexificar as narrativas produzidas no país. O longa fez tanto sucesso que recebeu o prêmio de Melhor Filme no Festival de Gramado, além de uma Menção Especial pelo júri do Festival de Cannes. Com ele e "Parahyba Mulher Macho" (1983), seu segundo longa-metragem, Tizuka tornou-se a única mulher a ter filmes com mais de 500 mil espectadores entre 1970 e 1985, isso em um recorte com mais de 300 filmes brasileiros. Nos anos seguintes, dedicou-se a filmes infanto-juvenis estrelados por Xuxa Meneghel e Renato Aragão. Em 2005, lançou a continuação do seu primeiro longa, "Gaijin - Ama-me Como Sou", que conta a história de imigrantes japoneses que chegam no Brasil para trabalhar em uma fazenda de café.
Filmes brasileiros com mais de 500 mil espectadores (1970 - 1985)
Fonte: Agência Nacional do Cinema (Ancine)
Gráfico: produção própria com a ferramenta Flourish
Em 15 anos, menos de 1% dos filmes brasileiros de maior bilheteria no país foram dirigidos ou codirigidos por mulheres
Dessa forma, para além dos padrões estéticos e de gênero, questões identitárias de raça e sexualidade também estiveram presentes nas discussões nessa nova era do cinema feminino. Assim como Tizuka, a trajetória de Adélia Sampaio evidencia como as barreiras raciais tornavam, e ainda tornam, esse percurso ainda mais árduo para mulheres fora do padrão branco e, no caso de Adélia, heteronormativo. Antes de dirigir seu primeiro longa, Adélia passou anos trabalhando nos bastidores, ocupando funções técnicas e administrativas que raramente se convertiam em oportunidades de criação. A conquista de “Amor Maldito”, em 1984, nasce desse movimento de resistência silenciosa, de alguém que insistiu em existir dentro de uma estrutura que, sistematicamente, negava a pessoas negras o lugar de autoria.
Baseada em fatos reais, a obra conta a história do relacionamento amoroso de Fernanda (Monique Lafond) e Sueli (Wilma Dias). Reprimida pela família evangélica e conservadora, Sueli comete suicídio, o que leva Fernanda a ser acusada de ser responsável pela morte da companheira. A trama acompanha a personagem de Monique tentando provar a sua inocência ao mesmo tempo que é alvo de um julgamento público, tendo de enfrentar homofobia, exposição na mídia e o processo judicial permeado de preconceitos.
Tornar-se a primeira mulher negra a dirigir um longa-metragem no Brasil, portanto, não foi apenas um marco individual de Adélia, mas um choque simbólico em uma indústria que, historicamente, invisibilizava corpos e narrativas negras. Seu longa também ampliou a visão do que se entendia como possível dentro do cinema brasileiro ao tratar, com frontalidade e sensibilidade, o relacionamento entre duas mulheres em um período ainda marcado por forte conservadorismo moral e político. Justamente por essa amplitude e temas abordados, o financiamento do filme foi negado pela Embrafilme, que apontou em seu parecer que o Estado não investiria dinheiro em uma “bestialidade” daquelas (lê-se relacionamentos homoafetivos). Sua participação em circuitos comerciais foi limitada. A produção entrou em cartaz em apenas oito cinemas de São Paulo e precisou ser lançada como uma pornochanchada, gênero cinematográfico que explorava o erotismo e ganhou força nos anos 70.
A memória que (não) nos contam
Apesar do fim da ditadura e do início do período de redemocratização do país, a luta dos sobreviventes do regime estava longe de acabar, já que a anistia dada aos presos políticos e exilados, em 1979, também concedeu o perdão aos militares que cometeram abusos em nome do Estado desde 1964, incluindo a tortura e execução de opositores. O silêncio imposto pelo governo, a falta de responsabilização e a dificuldade em localizar os corpos dos desaparecidos criaram um hiato na história oficial e deixaram o trauma da violência sem a devida reparação. Nesse cenário, em 2011, foi promulgada a lei 12.528, que criou a Comissão Nacional da Verdade (CNV), órgão que buscou resgatar e oficializar a memória da repressão. O relatório final da CNV, entregue no dia 10 de dezembro de 2014, documentou a prática sistemática e generalizada das violações aos direitos humanos pela análise de documentos e coleta de depoimentos de vítimas e familiares. Vale ressaltar que a pessoa responsável por sancionar a Comissão foi a então presidente Dilma Rousseff, primeira mulher a governar o país, ex- militante e presa política da ditadura.
A grande ironia e, ao mesmo tempo, a trágica falha do processo de justiça de transição brasileiro reside na lacuna entre as mais de 3 mil páginas do relatório final da CNV e a ausência de políticas públicas estatais robustas e contínuas para a efetiva preservação da memória da ditadura. A implementação das 29 recomendações propostas no documento - que incluíam a criação de museus, a sinalização de locais de repressão e a inclusão do tema no currículo escolar - foi negligenciada e ativamente sabotada por governos posteriores. Muitos dos lugares de memória - como centros de tortura, hospitais, cemitérios e universidades - não receberam o devido tombamento ou foram deixados em estado de abandono, permitindo que a "geografia da repressão" fosse apagada do tecido urbano, enquanto monumentos em homenagem a figuras do regime militar, em muitos casos, permanecem de pé. Durante a produção desta reportagem, no dia 26 de novembro de 2025, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) aprovou oficialmente o tombamento da antiga sede do Dops no Rio (Departamento de Ordem Pública e Social), 24 anos após a primeira solicitação. Localizado no Centro do Rio de Janeiro, o prédio foi cenário de repressões políticas e violações dos direitos humanos durante a ditadura. O Dops é o primeiro bem reconhecido como lugar de memória traumática pelo Iphan. Com isso, a expectativa é de que o reconhecimento fomente as conversas sobre a possível criação de um centro de memória no local, como o já existente Memorial da Resistência, em São Paulo. Um dos depoimentos colhidos pela CNV em 2013 foi da cineasta Lucia Murat, ativa desde o final da ditadura com filmes diretamente ligados aos direitos humanos, que compartilhou as torturas do cárcere em vídeo da Agência Pública, reproduzido abaixo à esquerda.
Na direção contrária à indiferença estatal, Lucia emerge como uma voz essencial para a preservação da memória coletiva. Ex-presa política e torturada durante o regime, começou a sua luta ainda no movimento estudantil, quando estudava economia na Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), em 1967. No ano seguinte, foi presa pela primeira vez no 30º Congresso da União Nacional dos Estudantes (UNE), em Ibiúna (SP). Após a implementação do AI-5, em dezembro de 1968, a jovem foi expulsa da universidade e se aliou ao Movimento Revolucionário 8 de Outubro (MR-8). Três anos depois, foi presa e levada ao DOI-Codi, no Rio de Janeiro, onde sofreu com choques elétricos, pau de arara e espancamentos, e liberta após três anos e meio de reclusão.
Ela conta que, mesmo dentro do presídio, as detentas femininas eram tratadas de forma diferente dos homens. ”A gente vive numa sociedade patriarcal até hoje, né? E na época da ditadura, isso era quase histriônico, porque os militares eram profundamente machistas. Quer dizer, o Bolsonaro é exatamente igual aos torturadores, à forma como eles falavam, como eles se referiam às mulheres. E em função disso também existia tortura sexual, que era uma coisa que só aconteceu com as mulheres. Essa sociedade machista era muito clara. Eu me lembro que teve situações ‘engraçadas’ no quartel, na Vila Militar, em que a gente tomava banho de sol algemada, porque eles diziam que a gente era duplamente perigosa, que além de ser comunista, era mulher”, relembra a cineasta.
A diretora carioca utiliza sua experiência individual como ponto de partida para a criação cinematográfica, transformando a vivência traumática em um testemunho acessível ao público. Filmes como "Que Bom Te Ver Viva" (1989), depoimentos de ex-presas políticas com a atuação de Irene Ravache, e "A Memória Que Me Contam" (2012) articulam o pessoal e o político, dando visibilidade à dimensão humana do trauma. O seu cinema, ao desvelar as cicatrizes da ditadura e ao insistir em narrar o que foi silenciado, cumpre um papel crucial: o de manter a memória ativa e viva, desafiando o esquecimento imposto e contribuindo para uma consciência histórica que se recusa à amnésia. Amplamente premiada no Brasil e no exterior, Lucia se consagrou como a cineasta brasileira que mais dirigiu longas-metragens para o circuito comercial em toda a América Latina, tanto de ficção quanto documentários.


Cards: produção própria com a ferramenta Flourish
Obra de Lucia produzida durante o período ditatorial (O Pequeno Exército Louco) e seus filmes posteriores que retratam a repressão. Reprodução: Taiga Filmes
Editais e políticas de incentivo
Nos últimos anos, editais e políticas públicas de financiamento para projetos dirigidos por mulheres passaram a desempenhar papéis fundamentais no incentivo à participação feminina no audiovisual brasileiro. O Edital Ruth de Souza, promovido pelo Ministério da Cultura, e iniciativas do Instituto Criar em parceria com a Disney são apenas alguns exemplos de incentivos às cineastas de todo o país. Apesar dos avanços, o debate sobre ações afirmativas ainda causam resistência dentro do setor, especialmente quando envolve critérios de diversidade dentro do processo. É o que aponta a jornalista, escritora e membro da Associação Brasileira de Críticos de Cinema (Abraccine) Luiza Lusvarghi. “O que existe hoje é uma política de cotas, que é muitas vezes mal recebida no mercado, porque estaria privilegiando este ou aquele segmento em detrimento do profissional ‘experiente’, e que está nos editais. Sim, é verdade que muitas produções com esses novos olhares estão apenas engatinhando, mas porque não buscar novas abordagens nos editais? O cinema indigena, por exemplo, está tendo mais visibilidade, mesmo quando feito em coproduções com equipes que não saíram das aldeias, ou com cineastas que possuem outra origem, mas possuem uma empatia com esse olhar do outro, como 'A Febre', por exemplo, de Maya Da-Rin, totalmente falado em português e nas línguas indígenas tukano e tikuna, uma perspectiva que não existia no cinema feito anteriormente. Acho que num breve futuro vamos ver produções cada vez mais assertivas e feministas”, pontua.
Nesse movimento de renovação destacado pela autora, um novo grupo de cineastas ganha força ao revisitar perspectivas da ditadura militar com um olhar do século 21. Flávia Castro, em "Deslembro" (2018), retoma memórias de exílio e reconstrói o impacto do trauma político na formação de uma jovem, enquanto Suzanna Lira, em "Torre das Donzelas" (2018), reúne relatos de mulheres presas durante o regime para reconstruir, pela escuta e pela memória coletiva, episódios de resistência e violência institucional. Essas obras exemplificam como os novos olhares vêm ampliando o repertório estético e político do cinema brasileiro, oferecendo interpretações mais diversas e sensíveis sobre um passado historicamente narrado por vozes masculinas.
Luiza também traz uma reflexão sobre como o meio acadêmico ao mesmo tempo que apresenta uma participação fundamental no desenvolvimento de novas profissionais para o mercado, também precisa avançar em termos de reconhecimento e valorização das pesquisas voltadas para a questão de gênero, raça e representatividade no audiovisual. “O papel da universidade e dos centros culturais, de pesquisa, os programas de bolsas, são essenciais para a construção dessa nova representação no mundo inteiro. Mas a academia ainda penaliza aquelas que se dedicam a esse tipo de estudos, em geral tachados de antropológicos. Basta ver a grade dos cursos de cinema e audiovisual e suas bibliografias”, declara a pesquisadora.
Memórias de uma lente feminina
 | 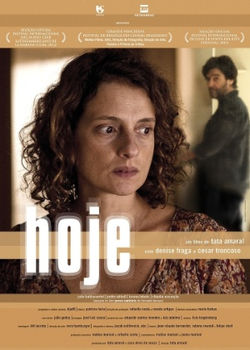 |  |
|---|---|---|
 |  |  |
 |  |
Festival Internacional de Cinema Feminino
Foi justamente a falta de debates sobre gênero e cinema no Brasil que impulsionou o surgimento do Femina. O Festival Internacional de Cinema Feminino, criado em 2004, é o primeiro evento voltado a filmes dirigidos por mulheres (cis e trans) e pessoas não binárias na América Latina. Com filmes nacionais e estrangeiros, a curadoria do evento é feita a partir de dois processos principais: inscrições abertas ao público e convites feitos através de pesquisas em outros festivais, levando em consideração critérios como o tema do filme, lugar de origem, diversidade das diretoras e qualidade técnica das obras. Além das exibições e premiações, o Femina promove seminários para discutir pautas abordadas pelos trabalhos concorrentes.
Para Paula Alves, a intenção do festival é estimular o trabalho das diretoras, o imaginário do público sobre filmes de autoria feminina, destacar a participação dessas profissionais dentro do mercado de trabalho e apresentar filmes que dificilmente o público teria acesso no circuito comercial. “A gente tem muitas mulheres como assistentes, por exemplo, mas a direção das equipes ainda tem uma disparidade muito grande. A direção de fotografia é a carreira que tem disparidade maior e isso tem toda uma questão relacionada com, desde a infância, as mulheres não serem estimuladas a trabalhar com máquinas, com tecnologia, equipamentos. Tem toda uma questão cultural desde a educação das crianças que reflete nessas carreiras”, reflete a diretora e produtora do evento.
“Eu acho que enquanto houver a questão da sub paridade de gênero faz sentido fazer o festival, né? Faz sentido estimular que as mulheres assumam essas funções, estimular que as estudantes de cinema assumam essas funções. No festival, além de exibir os filmes, a gente também faz seminários, debates, a gente discute essas questões. Então, a ideia é sensibilizar mesmo as pessoas que trabalham em comunicação, sensibilizar os jornalistas, os publicitários, que a gente precisa mudar a imagem que a gente tem das mulheres”, conclui. Nesse espírito, as cineastas entrevistadas nessa reportagem deram conselhos para mulheres que desejam construir uma carreira na direção cinematográfica.























